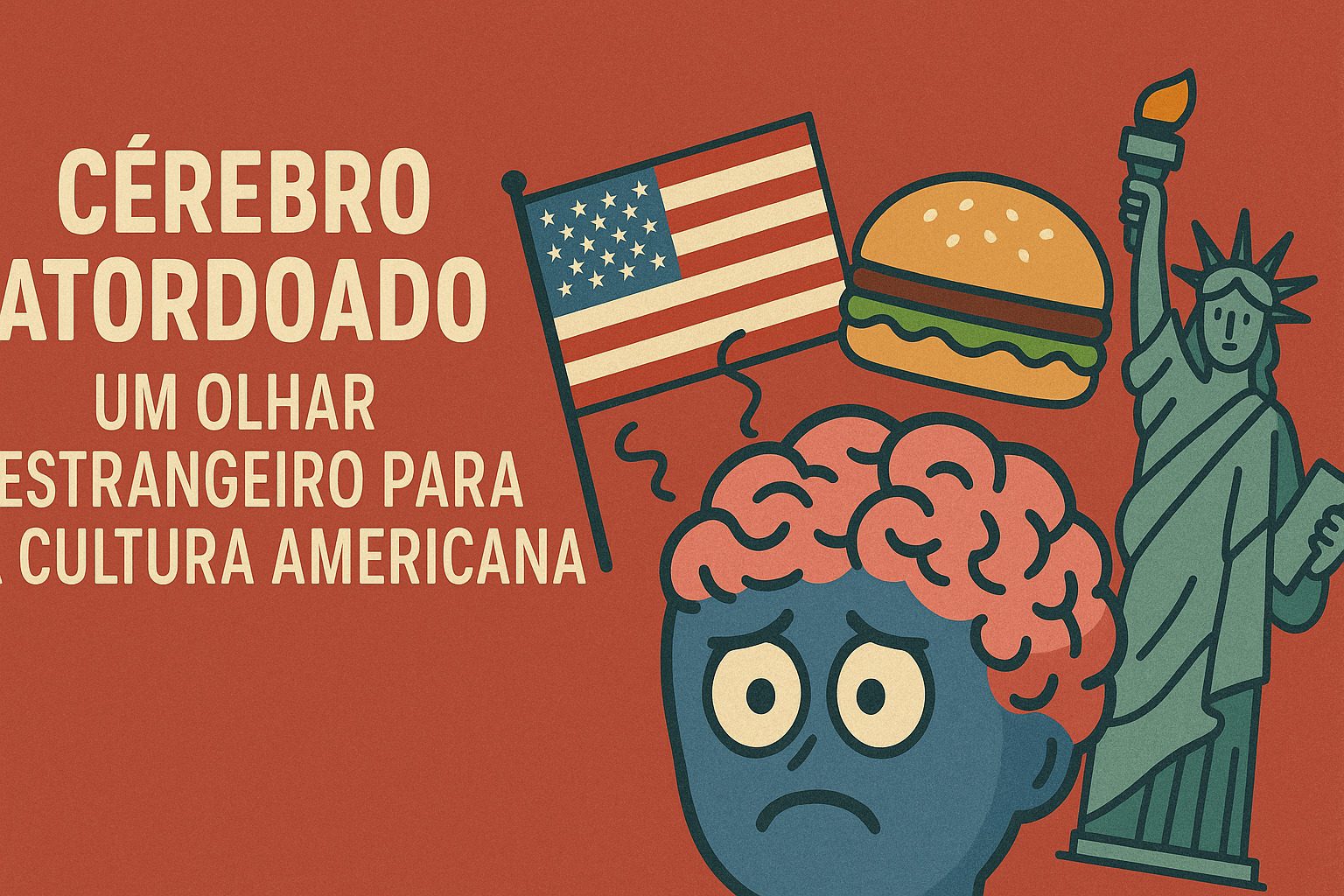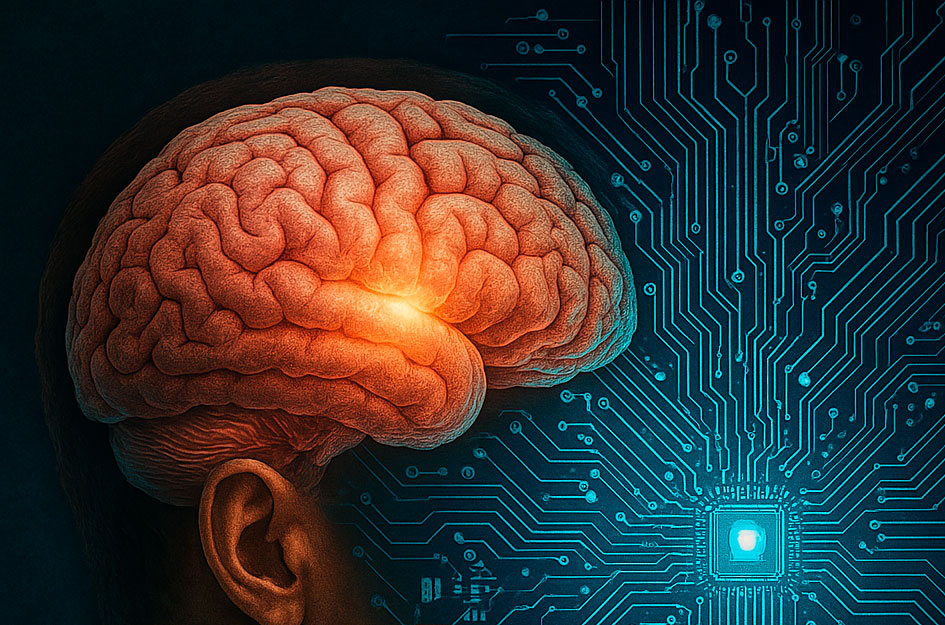Este texto “Como melhorar o desempenho das aulas” propõe uma reflexão sobre o CAQ (Custo Aluno Qualidade), trazendo para a discussão alguns autores que pesquisam um dos mais importantes temas para o financiamento da Educação Pública, ponto decisivo para a melhora de desempenho de alunos e professores em sala de aula. Afinal, há muito tempo alunos e professores pedem maior investimento na Educação Básica. Será isso possível?
Por força de Lei, o valor por aluno é fixado pelo governo federal, somando os recursos depositados nos fundos estaduais mais o que é complementado pela União, dividido pela soma das matrículas da Educação Básica constante no censo escolar. O que se questiona nas pesquisas sobre o CAQ é se esse cálculo basta, se para aliar custo e qualidade deve-se somente executar uma simples fórmula matemática, que inclui apenas um montante financeiro arrecadado e um número real de alunos.
Dentre os trabalhos acadêmicos pioneiros na área do custo aluno, segundo Oliveira (2006), destacam-se os estudos realizados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que discute a definição da alíquota do salário-educação nos anos 60.
A legislação brasileira expressa em vários momentos a questão do custo-aluno qualidade. A Constituição Federal de 1988 no Artigo 206 faz menção ao princípio de garantia do padrão mínimo de qualidade. No início dos anos 90, a proposta de estipular financeiramente o custo-aluno-qualidade aparece por ocasião do Fórum Permanente do Magistério da Educação Básica.
A LDB 9394/96 determina em seu inciso IX do Artigo 4º, “padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”.
O Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/02) reforça a proposta de padrões mínimos de qualidade, em sua meta de número 7 (sete) sobre o financiamento, orientando os orçamentos das três esferas governamentais a garantir padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos nacionalmente. Mas é a partir das discussões promovidas pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação (1999-2001), que se chega a uma proposta de CAQ, para todos os níveis e modalidades de ensino, divulgada em 2005.
Ednir e Bassi (2009), Pinto (2006), Robert Verhine e Ana Lúcia Magalhães (2006), entre outros, desenvolveram pesquisas a respeito do caminho percorrido para se chegar ao CAQ e diferenciar entre o que é realmente investido em Educação pelos órgãos governamentais e o que é estipulado pelo CAQ. Regina Vinhaes Gracindo (2009) chama atenção para a necessidade de elevação urgente do percentual do PIB (Produto Interno Bruto) aplicado em Educação.
Outros pesquisadores têm posição semelhante, defendem um aumento, pensando-se em 6% no PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), 7% como aponta o PNE, 10% como indicou a sociedade na primeira proposta do PNE, ou como prevê a proposta do CAQ de ampliar 1% para a matrícula atual ou de mais 4% para as metas do PNE.
Nesse contexto, e segundo a pesquisa do CAQ, as fontes públicas para o financiamento da educação no Brasil são estimadas em: 3% do PIB,decorrentes dos 18% dos impostos federais e 25% dos impostos
estaduais e municipais, acrescidos de 0,3% do PIB, decorrentes do salário-educação, perfazendo um total de 4% do PIB. Comparando esse percentual com os dos países da OCDE, cuja média é de 5,9% do PIB,
novamente percebe-se a distância existente. (GRACINDO, 2009, p. 94).
A seguir, é apresentado um quadro baseado em Ednir e Bassi (2009), que traduz a diferença do cálculo aluno-qualidade realizado pelos órgãos governamentais e o proposto pelo CAQ.
Quadro 01 – Diferença do cálculo aluno-qualidade realizado pelos órgãos governamentais e o proposto pelo CAQ
| Como tem sido feito: procedimentos para se obter o valor de Gasto/Aluno. Parâmetro com base no qual se calculam os gastos com educação. |
Como queremos que seja os procedimentos para se obter o Custo-Aluno-Qualidade (CAQ). Parâmetros com base no qual deveriam ser calculados os gastos com Educação. |
| 1- Verifica-se o total das disponibilidades orçamentarias anuais (cujo volume pode diminuir, porque fica sujeito ao desempenho da economia e da arrecadação de impostos) 2- Divide-se essa quantia pelo número total de alunos matriculados |
1- Levantam-se todos os itens necessários (insumos: infraestrutura, tempo, formação dos profissionais…) para oferecer uma Educação de qualidade a crianças, adolescentes, jovens e adultos, mantendo e desenvolvendo os sistemas de ensino. 2- Somam-se os custos desses itens necessários por etapa da Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos) e por escola, no caso, a escola imaginada pelo estudo do CAQ, que tem um certo tamanho, um certo número de alunos por turma e outros itens pertinentes. 3- Dividem-se os custos por nível e depois pelo número de alunos previsto em cada escola. 4- É bom lembrar que há outros cálculos envolvidos. Aqui se faz um resumo básico, apenas para que a lógica seja entendida. |
Fonte: (EDNIR E BASSI, 2009, p.73)
PIB Investindo em Educação
No ano de 2012, iniciaram-se novas discussões a respeito do percentual do PIB investido em Educação. A Emenda Constitucional de nº 59, de 11 de novembro de 2009, determinara que no próximo PNE houvesse uma conjugação do PIB com a Educação.
Dessa forma, na Conae (Conferência Nacional de Educação) do ano de 2010, decidiu-se como meta, o investimento de 10% do PIB até 2020.
A Câmara Federal aprovou, no ano de 2012, uma meta de investimento público de 10% do PIB para a Educação pública, a ser atingida no prazo de dez anos. Seguindo para avaliação e votação do Senado Federal, mesmo após declarações como a do Ministro Mantega³
Claro que nós somos favoráveis ao aumento de investimento na educação. Hoje ele representa 5,1% do PIB, e vai para 7% conforme o programa que nós aprovamos”, explicou Mantega durante seminário promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). “Agora, passar para 10% de maneira intempestiva põe em risco as contas públicas. Isso vai quebrar o Estado brasileiro, então não vai beneficiar porque depois você vai ter que rever isso e não vai ter recursos pra educação.
(PORTAL TERRA4
– 04/07/2012)
Com o valor mínimo por aluno do Fundeb5, mais os repasses legais da União, considerando a diferença em porcentagem de investimento em Educação pública de cada Estado da Federação e municípios, somando os impostos próprios e ainda o salário educação, cada administração pública precisa dar conta qualitativamente de sua educação, ou pelo menos deveria. Nelson Cardoso Amaral (2012), ao escrever sobre o financiamento da Educação Básica no Brasil, indica que até 2050 teremos uma diminuição de 40% no número de crianças em idade escolar, colocando o Brasil, a longo prazo, em condição mais favorável, considerando a demanda escolar e financiamento público educacional:
Há, portanto, uma redução da população educacional em idade de 84,4 milhões em 2008 para 50,9 milhões em 2050, o que representa uma redução de 40%. Há uma importante queda de 44% em 2008 para 24% em 2050, do percentual da população brasileira em idade educacional em relação a população total brasileira. Esse fato justificaria uma queda natural na necessidade de financiamento como percentual do PIB, de 2020 para 2050. (AMARAL, 2012, p. 195)
Levando em consideração a afirmação de Amaral (2012) citada acima e a luta para aumento do PIB investido em Educação citada anteriormente, conclui-se que possa demorar muito a ocorrer ou que não aconteça, visto que para o futuro é prevista uma situação de mais conforto para as crianças que ingressarão nos primeiros níveis da Educação. Mas e as crianças de hoje, ficam condenadas ao prejuízo qualitativo educacional? Não serão elas, os pais dessas crianças de 2050?
Referências
AMARAL, N.C. Para compreender o financiamento da educação básica no Brasil. Brasília: Liber Livro, 2012.
GRACINDO, R.V. PNE e PDE: aproximações possíveis. In DOURADO, L.F. Políticas e gestão novos marcos regulatórios da educação no Brasil. São Paulo: Xamã, 2009.
OLIVEIRA, R.P. Financiamento da educação no Brasil: um estado da arte provisório e algumas questões de pesquisa. In: GOUVEIA, A B, SOUZA, A R e TAVARES, T M (orgs). Conversas sobre financiamento da educação no Brasil. Curitiba: UFPR, 2006.
PINTO, J.M.R. O custo aluno qualidade na legislação. In: GOUVEIA, A B, SOUZA, A R e TAVARES, T M (orgs). Conversas sobre financiamento da educação no Brasil. Curitiba: UFPR, 2006.
VERHINE, R.E. e MAGALHÃES, A.L.Custo-aluno-ano em escolas de qualidade: uma análise por contexto e oferta de ensino. In: GOUVEIA, A B, SOUZA, A R e TAVARES, T M (orgs). Conversas sobre financiamento da educação no Brasil. Curitiba: UFPR, 2006.
Deixe o seu comentário!
[sc name=”palestra”]